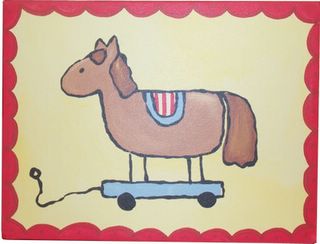
“Não há manhãs para reviver, sei-o hoje. Não se podem construir dias novos sobre manhãs que se recordam. Inventei-te talvez, partindo de uma estrela como todas estas. Quis ter uma estrela e dar-lhe as manhãs de julho. As grandes manhãs de julho diante de casa e a minha mãe a acabar o almoço bom e o meu pai a chegar e a ralhar, sem ser a sério, por o almoço não estar pronto e eu sentado na terra, talvez a fazer um barroco, talvez a brincar com o cavalo de cartão. Tive um cavalo de cartão. Nunca te contei, pouco te contei, mas tive um cavalo de cartão. Brincava com ele e era bonito. Gostava muito dele. Tanto. Tanto. Tanto. Quando o meu pai mo trouxe, dentro de um embrulho verdadeiro, e comecei a desatar as guitas, queria abri-lo depressa; quando o vi, as pequenas orelhas levantadas, os olhos brilhantes, parei-me à frente dele. Foi o meu país durante uma semana, acreditas?; aquele cavalo singelo de cartão foi o meu país durante uma semana. Mas num sábado deixei-o na rua. O meu pai chamou-me para uma coisa, a minha mãe chamou-me para uma coisa e esqueci-me. Acreditas?, esqueci-me do meu cavalo de cartão no quintal, como foi possível?, como não me lembrei?, como é que as pessoas esquecem assim o que prezam?, esqueci-me do cavalo de cartão no quintal, como pude dormir?, como pude assentar os lençóis sobre a respiração e dormir?, como pude simplesmente dormir?, esqueci-me do cavalo de cartão no quintal, acreditas? E nessa noite choveu. No domingo de manhã, acordei com um relâmpago espetado no olhar e um trovão a ressoar no peito, o cavalo de cartão?, o meu cavalo de cartão?, corri para o quintal, atravessei a cozinha em cuecas e com a camisa interior, corri e, descalço, entre as poças de água limpa e a terra húmida e as folhas das árvores a segurarem gotas suspensas no ar, no quintal, o cavalo de cartão estava onde o deixara. Um monte amorfo de pasta de papel, onde se distinguiam dois olhos tristes de diamante, a tinta desbotada a pintar o chão e as pedras. Ajoelhei-me sobre ele e chorei. Aquela manhã. Chorei. Foi o meu pai que me tirou de lá. Para ti, para o nosso filho, para mim, quis um cavalo de cartão, sem a chuva. Um idílio impossível, sem a culpa que não se pode evitar. A culpa que tu e eu não tivemos. A condenação certa por existirmos. Conforme um precipício no fim de uma corrida: os corredores a terem de vencer e a meta a ser a linha de um precipício. Ou uma faca suspensa sobre nós, uma faca que se nos enterra nas costas a qualquer instante, sem motivo, uma faca que às vezes olhamos e sabemos que está lá pronta a cair e que vai cair, a qualquer instante, sem motivo. Uma faca enterrada nas costas, para sofrermos ou nos levar sofrendo. Não escolhi este destino. Escolhi estradas desconfiando que todas eram a mesma. E todas eram a mesma.”
.
José Luís Peixoto, Nenhum Olhar
.
Sem comentários:
Enviar um comentário