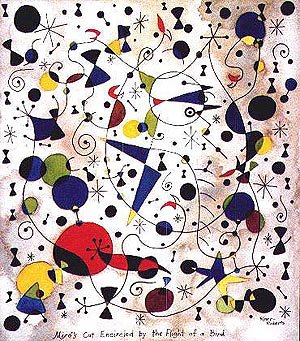Às vezes, encontro-me nas palavras dos outros. Mais raramente, nas minhas. Por pura coincidência. Em pura coincidência.
29 de abril de 2006
como uma carta devolvida,
por abrir. E podem ser o contrário
disso. A sua verdadeira consequência
raramente nos é revelada. Quando,
a meio de uma tarde indistinta, ou então
à noite, depois dos trabalhos do dia,
a poesia acomete o pensamento, nós
ficamos de repente mais separados
das coisas, mais sozinhos com as nossas
obsessões. E não sabemos quem poderá
acolher-nos nessa estranha, intranquila
condição. Haverá quem nos diga, no fim
de tudo: eu conheço-te e senti a tua falta?
Não sabemos. Mas escrevemos, ainda
assim. Regressamos a essa solidão
com que esperamos merecer, imagine-se,
a companhia de outra solidão. Escrevemos,
regressamos. Não há outro caminho.
Rui Pires Cabral
.

Nuno Júdice (1949)
ROTINA
Ao abrir a janela do quarto para outras
janelas de outros quartos, ao veres a rua que desemboca
noutras ruas, e as pessoas que se cruzam, no início da
manhã, sem pensarem com quem se cruzam
em cada início de manhã, talvez te apeteça
voltar para dentro, onde ninguém te espera. Mas
o dia nasceu - um outro dia, e a contagem do tempo
começou a partir do momento em que
abriste a janela, e em que todas as janelas
da rua se abriram, como a tua. Então, resta-te
saber com quem te irás cruzar, esta manhã: se
o rosto que vais fixar, por uns instantes, retribuirá
o teu gesto; ou se alguém, no primeiro café que
tomares, te devolverá a mesma inquietação
que saboreias, enquanto esperas que o líquido
arrefeça.
Nuno Júdice
.
27 de abril de 2006
História de Ayandal

Nesses tempos, numa outra terra, junto ao grande oceano, na aldeia de C´noth vivia Ayandal.
Ayandal era um dos jovens da aldeia. E, como todos os outros jovens da aldeia, sonhava com o dia em que se tornasse adulto e pudesse acompanhar os homens, nos barcos, viajando pelo oceano, pescando, visitando terras distantes, conhecendo outras pessoas e vendo coisas, sabendo o que não poderia saber na aldeia.
...
O dia chegou em que Ayandal se tornava adulto. Acordou ainda antes de o sol se levantar no horizonte. Vestiu-se, bebeu uma caneca de leite, pegou no saco de provisões que a sua mãe lhe tinha preparado. Saiu de casa, olhou uma vez para ela e correu para o cais. Chegou ao raiar da alvorada. Esperavam-no os anciãos da aldeia, a ele e aos outros sete jovens que nesse dia deveriam fazer a Prova.
Quando finalmente estavam todos reunidos, um dos anciãos tomou a palavra. Cada um dos jovens, no seu bote, deveria navegar até perder vista de terra e encontrar um barco com velas listadas brancas e azuis. Nesse barco ser-lhes-ia dado algo que deveriam trazer aos anciãos.
Ayandal correu para o seu bote, desamarrou-o do cais e pegou nos remos.
Quando saiu da enseada era já o primeiro dos oito. Rapidamente arrumou os remos no fundo do bote e içou a vela única.
O bote deslizava sobre as águas e Ayandal, olhando para trás, via a aldeia tornando-se mais e mais pequena, até desaparecer, a costa tornando-se mais e mais indistinta, os bosques, os prados, os montes tornando-se uma massa indistinta de verde e castanho, até tudo se tornar uma enorme mancha cinza junto ao mar azul e depois desaparecer.
O bote deslizava sobre as águas e, para além do azul do mar e do céu, Ayandal via apenas sete manchas negras que ele sabia serem os botes dos seus companheiros. Olhando em frente viu algo. Primeiro, só um pequeníssimo ponto negro no meio do azul do mar. Depois, enquanto o seu bote avançava, o ponto crescia para uma mancha, e de uma mancha tomava a forma de um barco. Ayandal via agora que era um grande barco mercante, as velas com listas azuis e brancas. Ayandal recolheu a vela do seu bote e remou, aproximando-se do barco.
Ayandal chegou junto ao barco, de onde lançaram uma corda e uma escada. A corda usou-a para amarrar o seu bote, a escada para subir ao barco. Os marinheiros cumprimentaram-no alegremente por ter sido o primeiro a chegar e um deles deu-lhe um colar com uma pequena placa em madeira. Nela viu uma inscrição com a insígnia de capitão. Sorrindo, colocou o colar ao pescoço, despediu-se rapidamente dos marinheiros e voltou ao seu bote. Enquanto o desamarrava viu as manchas no meio do mar tornarem-se os botes de dois dos seus companheiros que se aproximavam do barco. Ayandal remou até ganhar distância do grande barco mercante, recolheu os remos e voltou a içar a vela.
Regressava agora à aldeia e seria o primeiro na Prova. Olhando em frente, via já uma forma cinza entre o mar e o céu, e olhando para trás, apenas um pontinho negro.
Foi então que Ayandal viu um peixe, um enorme peixe vermelho nadando perto do seu bote. E pensou no que diriam na aldeia se, para além da placa de madeira, trouxesse também aquele enorme peixe vermelho. Imaginou as caras dos anciãos, dos seus pais e irmãos, imaginou a cara de todos na aldeia, os comentários que fariam sobre ele, o valoroso Ayandal, o primeiro a chegar ao barco, o primeiro a retornar à aldeia e ainda com tempo para pescar. Tudo isto pensou Ayandal no tempo que levou ao peixe passar por debaixo do bote.
Ayandal, vendo o peixe distanciar-se, acordou dos seus sonhos, reorientou a vela e fixou o mastro amarrando-o com uma corda. Pegou no arpão, amarrou-lhe a corda grande e esperou até estar suficientemente perto daquele grande, vermelho peixe. Então, fixando bem os seus pés no fundo do bote e agarrando com firmeza o arpão, fez pontaria. Arremessou o arpão, atingindo o peixe a meio do dorso.
E o céu tornou-se cinzento com nuvens e as vagas tornaram-se maiores e o vento soprou com mais força. Ayandal largou a corda do arpão e agarrou a do mastro segurando-a o melhor que podia. Mas a força de Ayandal não se comparava à força do mar, e ele viu a corda partir-se e o mastro rodar de encontro a ele e a escuridão...
Quanto tempo durou a tempestade, Ayandal não soube. Quando acordou viu que o céu mais uma vez era azul, o mar calmo e nem uma brisa soprava. Levantou-se e viu também que o mastro e a vela tinham sido levados pela tempestade, mas que lhe sobravam ainda os remos. Olhando em volta, viu, para leste e não muito longe, uma mancha castanha que se estendia por todo o horizonte. Começou a remar e, olhando por cima do ombro, vendo a mancha tornar-se mais nítida houve algo que o sobressaltou. Era terra que ele via, mas não a terra que ele conhecia. Chegou a uma praia, arrastou o bote até junto às rochas, onde o deixou. Voltou para junto da água, fez uma concha com as mãos e provou a água. Sorriu. Poderia não conhecer aquele lugar, mas a água tinha a mesma deliciosa falta de sabor que a do mar que conhecia.
Caminhou terra adentro, procurando pessoas e comida. E comida encontrou, mas não pessoas. Talvez estivesse numa zona não povoada, pensou. Voltou para a praia e, com o seu bote e alguns ramos e arbustos, fez um abrigo para essa noite. Tentava dormir e não conseguia. Saiu do abrigo e, olhando o céu, percebeu o que o preocupava. Não reconhecia uma única estrela, não reconhecia nada no céu. Tudo era completamente diferente.
...
Não tendo bote nem maneira de fazer um novo, decidiu explorar aquela terra, procurando alguém que o pudesse ajudar. Durante anos vagueou, sem encontrar pessoas. Um dia houve em que encontrou uma aldeia. E os homens que encontrou nessa aldeia nada sabiam da sua língua nem, como veio a descobrir, da sua terra ou de como fazer barcos. E Ayandal ensinou-lhes o que sabia sobre barcos e sobre o mar, e com eles começou a conhecer aquela nova terra.
Um dia Ayandal voltou a ver o mar. E lembrou-se da sua aldeia. Ajoelhou-se, fez uma concha com as mãos e provou a água. Havia algo estranho naquela água, um sabor que lhe lembrava alguma coisa que há muito esquecera. Mas Ayandal não se conseguia lembrar. Levantou-se, olhou o mar e voltou para dentro de terra.
Muitos anos se passaram e muitas vezes Ayandal voltou a ver o mar, e muitas vezes o atravessou, em barcos iguais aos que tinha conhecido na sua aldeia e no seu mundo. E muitos mais anos se passaram, e os barcos em que atravessava o mar já não eram de madeira, eram de metal, e os barcos em que atravessava o mar já não eram de metal, eram de coisas de que ele não sabia o nome.
...
Uma noite Ayandal chegou a uma praia. Olhou em frente, para a escuridão do mar, e para cima, para as estrelas que nunca deixariam de ser estranhas para ele.
Então Ayandal lembrou-se. Lembrou-se de ser pequeno e de chorar e da água dos seus olhos ter aquele gosto salgado. E lembrou-se de todos aqueles que tinha deixado e da tristeza que sentiriam pelo seu desaparecimento, de quantas lágrimas teriam sido precisas para tornar o mar salgado. E de que nenhuma dessas lágrimas era dele.
Ernesto Rodrigues Sampaio
26 de abril de 2006

Vicente Aleixandre (1898-1984)
EL POETA SE ACUERDA DE SU VIDA
Perdonadme: he dormido.
Y dormir no es vivir. Paz a los hombres.
Vivir no es suspirar o presentir palabras que aún nos vivan.
¿Vivir en ellas? Las palabras mueren.
Bellas son al sonar, mas nunca duran.
Así esta noche clara. Ayer cuando la aurora
o cuando el día cumplido estira el rayo
final, ya en tu rostro acaso.
Con tu pincel de luz cierra tus ojos.
Duerme.
La noche es larga, pero ya ha pasado.
Vicente Aleixandre
.
23 de abril de 2006

William Shakespeare (1564-1571)
Sonnet XXX
When to the sessions of sweet silent thought
I summon up remembrance of things past,
I sigh the lack of many a thing I sought,
And with old woes new wail my dear times’ waste:
Then can I drown an eye, unus’d to flow,
For precious friends hid in death’s dateless night,
And weep afresh love’s long since cancell’d woe,
And moan the expense of many a vanish’d sight:
Then can I grieve at grievances foregone,
And heavily from woe to woe tell o’er
The sad account of fore-bemoaned moan,
Which I new pay as if not paid before.
But if the while I think on thee, dear friend,
All losses are restor’d and sorrows end.
William Shakespeare
18 de abril de 2006

Antero de Quental (1842-1891)
A Germano Meireles
Só males são reais, só dor existe:
Prazeres só os gera a fantasia;
Em nada[, um] imaginar, o bem consiste,
Anda o mal em cada hora e instante e dia.
Se buscamos o que é, o que devia
Por natureza ser não nos assiste;
Se fiamos num bem, que a mente cria,
Que outro remédio há [aí] senão ser triste?
Oh! Quem tanto pudera que passasse
A vida em sonhos só. E nada vira...
Mas, no que se não vê, labor perdido!
Quem fora tão ditoso que olvidasse...
Mas nem seu mal com ele então dormira,
Que sempre o mal pior é ter nascido!
Antero de Quental
.
14 de abril de 2006

Soeiro Pereira Gomes (1909-1949)
As crianças da minha rua
As crianças da minha rua estiveram na praia - e vieram tristes.
- Coitadinhas, têm saudades do mar - disse-me alguém, talvez a pensar no último flirt do seu último veraneio de pessoa bem vivida.
Mas as crianças da minha rua não têm saudades: só eu sei por que estiveram na praia - e vieram tristes.
*
A minha rua é suja, esburacada, carcomida de velhice. Não tem passeios, porque ali ninguém passeia , nem nome nas esquinas. Mas chamam-lhe a Rua de Detrás, certamente porque as casas, atarracadas, ficam detrás de vivendas dominadoras, e a gente que nelas mora anda sempre atrás nas passadas da vida.
Rua de gente que trabalha. Em certas horas, é silenciosa e quieta; noutras, movimentada e garrulha. Tem fluxos e refluxos , como as águas do mar. As crianças da minha rua não conheciam o mar, mas adoravam a rua.
Pelas tardes cálidas de Verão, os moradores vinham para a soleira das portas, e ali ficavam a tomar o ar, que é fresco e gratuito, e a contar as novidades velhinhas da sua vida sempre igual.
As crianças - umas raquíticas, outras semi-nuas - vinham também (agora já não vêm) espalhar-se em grupos a brincar. E então a rua convertia-se no mundo encantador da sua imaginação. Havia buracos que eram precipícios; pedras que semelhavam castelos; montes de lixo convertidos em florestas. O mar era o fio de água que escorria pelas valetas; os bocados de madeira flutuavam como barcos, os papéis rasgados transformavam-se em peixes. Até a areia, que o vento arrastava aos montões, era removida, com mil cuidados, nas latas enferrujadas.
Nada faltava às crianças da minha rua. Não: faltava-lhes iodo – dissera aquele senhor que tinha saudades do último flirt.
E , certo dia deste Verão, as crianças da minha rua lá foram para a praia, todas iguais nos seus babeiros de riscado, que mãos caridosas talharam em horas de contrição.
Instalaram-se num recanto da praia, sob olhares vigilantes. De manhã, tomavam banho pela mão dos banheiros. Um, dois ... – a respirar. Depois secavam ao sol o fatinho de algodão azul, colado ao corpo enfezado, a tiritar. De tarde, voltavam para o recanto, em filas, duas a duas, e ficavam a revolver a areia, em grupos silenciosos.
Distante, no extremo da praia, outras crianças brincavam. Meninos que possuíam barcos de corda, peixes de borracha coloridos, baldes caprichosos - um mundo de brinquedos.
*
Chegaram há dias. Possuíam um mundo de fantasias, e agora já não olham para o fio de água que escorre pelas valetas, e, nos montes de lixo, as latas e papéis velhos jazem abandonados.
As crianças da minha rua estiveram na praia – e vieram tristes. Mas só eu e elas sabemos porquê.
Soeiro Pereira Gomes, Crónicas
9 de abril de 2006

Charles Baudelaire (1821-1867)
Embriaga-te
Devemos andar sempre bêbados.
Tudo se resume nisto: é a única solução.
Para não sentires o tremendo fardo do Tempo que te despedaça os ombros e te verga para a terra, deves embriagar-te sem cessar.
Mas com quê?
Com vinho, com poesia ou com a virtude, a teu gosto.
Mas embriaga-te.
E se alguma vez, nos degraus de um palácio, sobre as verdes ervas duma vala, na solidão morna do teu quarto, tu acordares com a embriaguez já atenuada ou desaparecida, pergunta ao vento, à onda, à estrela, à ave, ao relógio, a tudo o que se passou, a tudo o que gemeu, a tudo o que gira, a tudo o que canta, a tudo o que fala, pergunta-lhes que horas são:
"São horas de te embriagares!"
Para não seres como os escravos martirizados do Tempo,
embriaga-te, embriaga-te sem cessar!
Com vinho, com poesia, ou com a virtude, a teu gosto.
Charles Baudelaire
.
8 de abril de 2006

Jacques Brel (1929-1978)
On n'oublie rien
On n'oublie rien de rien
On n'oublie rien du tout
On n'oublie rien de rien
On s'habitue c'est tout
Ni ces départs ni ces navires
Ni ces voyages qui nous chavirent
De paysages en paysages
Et de visages en visages
Ni tous ces ports ni tous ces bars
Ni tous ces attrape-cafard
Où l'on attend le matin gris
Au cinéma de son whisky
Ni tout cela ni rien au monde
Ne sait pas nous faire oublier
Ne peut pas nous faire oublier
Qu'aussi vrai que la terre est ronde
On n'oublie rien de rien
On n'oublie rien du tout
On n'oublie rien de rien
On s'habitue c'est tout
Ni ces jamais ni ces toujours
Ni ces je t'aime ni ces amours
Que l'on poursuit à travers cœurs
De gris en gris de pleurs en pleurs
Ni ces bras blancs d'une seule nuit
Collier de femme pour notre ennui
Que l'on dénoue au petit jour
Par des promesses de retour
Ni tout cela ni rien au monde
Ne sait pas nous faire oublier
Ne peut pas nous faire oublier
Qu'aussi vrai que la terre est ronde
On n'oublie rien de rien
On n'oublie rien du tout
On n'oublie rien de rien
On s'habitue c'est tout
Ni même ce temps où j'aurais fait
Mille chansons de mes regrets
Ni même ce temps où mes souvenirs
Prendront mes rides pour un sourire
Ni ce grand lit où mes remords
Ont rendez-vous avec la mort
Ni ce grand lit que je souhaite
A certains jours comme une fête
Ni tout cela ni rien au monde
Ne sait pas nous faire oublier
Ne peut pas nous faire oublier
Qu'aussi vrai que la terre est ronde
On n'oublie rien de rien
On n'oublie rien du tout
On n'oublie rien de rien
On s'habitue c'est tout
Jacques Brel
.
7 de abril de 2006

William Wordsworth (1770-1850)
What though the radiance
Which was once so bright
Be now for ever taken from my sight,
Though nothing can bring back the hour
Of splendour in the grass,
Of glory in the flower,
We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind;
In the primal sympathy
Which having been must ever be;
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind.
William Wordsworth, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood (excerto)
.