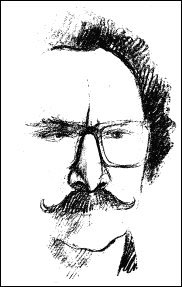Não sei o que seria da minha vida se não fosse a colecção de borboletas. Sobretudo no inverno, percebem, os dias pequenos, a chuva, a tristeza das árvores, o papel da parede a destingir para dentro da minha mãe, para dentro de mim, o apartamento de súbito acanhado, uma vontade de qualquer coisa que não há, sobretudo nos domingos de inverno quando às quatro da tarde acendemos a luz e me apetece morrer. Não morrer, é claro, de uma morte por doença ou assim, simplesmente deixar de existir
trucla
como uma lâmpada se funde, desaparecer por completo, sem rastro, nunca ter nascido, não morar num corpo incómodo com braços a mais e pernas a mais e dentes a mais que doem
(a propósito tenho de marcar uma consulta sem falta para a semana que vem)
um corpo ainda por cima com frio, duas camisolas e os joelhos encostados ao calorífero, o cabelo que principia a rarear na moleirinha apesar dos tratamentos que leio no jornal e vou comprar à farmácia, umas ampolas caríssimas que não resolvem nada, deixar de existir
trucla
como uma lâmpada se funde sem a minha mãe dar por isso coitada, a minha mãe que a seguir ao falecimento do meu padrinho voltou para casa com a colecção de borboletas
— O teu tio Fernando deixou-te isto
cinco caixas de vidro com os bichos, de asas abertas, pregados em cartões, e o nome a latim por baixo, cinco caixas de insectos coloridos, azuis, amarelos, encarnados, verdes, com pintas e listras e círculos e manchinhas simétricas que à minha mãe faziam pena e eu achava lindos. De forma que no inverno, quando me apetece morrer, vou buscar a colecção de borboletas ao armário do meu quarto, ponho-as ao lado umas das outras na mesa do jantar e fico durante horas debruçado para os bichos indiferente à chuva e à tristeza das árvores. A minha mãe ainda protesta do crochet a contar as malhas com a unha
— Sempre gostava de entender a graça que achas a isso
mas como detesta que eu saia por causa das más companhias e das doenças das mulheres, resolve calar-se não vá eu guardar as caixas e descer as escadas
(moramos num terceiro andar)
para a academia de bilhar da avenida, cheia de homens com a unha do mindinho comprida e de senhoras que fumam
(na opinião da minha mãe uma senhora que fuma não pode ser honesta)
e entrar-lhe na sala com uma noiva que lhe fique com as jóias, passe a decidir das refeições e a meta num lar. As jóias não são muitas: o meu pai não era rico, ninguém na nossa família era rico, e o que ela tem, para somar à aliança, é um anel com uma pedrinha que além de minúscula me parece falsa e um colar de pérolas que se vê logo que o é, demasiado perfeito como as dentaduras postiças. A colecção de borboletas tem a vantagem de nos manter no apartamento aos dois, a mim porque não tenho tempo de arranjar uma namorada e casar-me e a minha mãe porque, na ideia dela eu, por minha vontade, nunca a meterei numa cave para velhos
(a minha mãe imagina que os velhos são sempre metidos em caves a passarem fome e cheios de percevejos)
no que aliás tem razão visto que gosto dela e nos damos bem. É raro zangarmo-nos, é raro discutirmos, não me queixo da comida nem há pó pelos cantos, e se não me apetecesse tanto morrer no inverno era uma pessoa feliz. De resto não posso dizer que seja especialmente infeliz: graças a Deus tenho tido saúde
(à parte a queda do cabelo, que seca)
não ganho muito no emprego mas para a vida que levamos e junto com a pensão do meu pai chega perfeitamente se pouparmos um bocadinho na luz, o apartamento é nosso, na próxima primavera fechamos a varanda da cozinha e fica uma marquise óptima para passar a ferro
(gosto do cheiro da roupa, daquele cheiro de humidade quente de quando se passa a ferro)
e mal o papel da parede começa a destingir para dentro de mim vou num pulo ao meu quarto e trago a colecção de borboletas do meu tio Fernando, o irmão da minha mãe que morreu de um aneurisma faz em janeiro três anos. Era solteiro como eu mas morava sozinho e de tempos a tempos aos sábados, como nós moramos perto do campo da bola, vinha almoçar connosco antes dos jogos. No fim do almoço enquanto a minha mãe lhe servia o café perguntava-me com um sorriso que nunca percebi
— Ensinas-me a voar?
eu com cara de parvo a achá-lo maluco, a minha mãe desconfiada
(a minha mãe desconfia de tudo)
— Que história é essa Fernando?
o meu tio Fernando, muito compenetrado, com os beicinhos em bico para não se queimar e mão espalmada no peito para não sujar a gravata
(a minha mãe diz que as nódoas de café são um tormento)
— Todas as crianças sabem voar Madalena
e eu, agarrado aos móveis com medo de voar sem querer pelo corredor fora. Acho que foi por ter vontade de voar que o meu tio Fernando
(o meu tio Fernando trabalhava num banco a trocar dinheiro às pessoas)
começou sem dizer a ninguém a colecção de borboletas. Se calhar também o inverno era difícil para ele
(os dias pequenos, a chuva, uma vontade de qualquer coisa que não há)
se calhar também aos domingos, como não havia jogos, lhe apetecia morrer. Morava em duas assoalhadas escuríssimas com móveis parecidos com urnas e comia sozinho diante do jornal, ou seja com o jornal entalado entre o prato e o jarro da água (o médico proibiu-lhe o vinho derivado às artérias) e não me admira que lhe apetecesse morrer. Há alturas em que penso que toda a gente
(mesmo as que coleccionam borboletas)
tem vontade de morrer, e que se nos ensinassem a voar nos íamos logo embora para outro país qualquer, esses países sem domingos de inverno
(deve haver com certeza países sem domingos de inverno)
onde não é preciso fazer crochet toda a tarde nem olhar caixas com bichos porque se é feliz.
António Lobo Antunes, Livro de Crónicas
.